Transcrição | O Tempo e o Som - 001 - Modinha e Lundu
- tiagosantos2545
- 5 de nov. de 2025
- 23 min de leitura

O Tempo e o Som - 001 - Modinha e Lundu
Transcrição
[Palestrante 1]
O Tempo e o Som, a história contada e cantada da música brasileira, com Gabriel Carneiro e Tiago Santos. Saudações musicais, está no ar O Tempo e o Som, programa de rádio e podcast sobre a história da música brasileira. A produção e apresentação do programa são de Gabriel Carneiro e Tiago Santos.
O Tempo e o Som é veiculado pela Rádio Eixo e é produzido com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Eu sou o Tiago Santos e passo a palavra para se apresentar agora para o meu amigo Gabriel Carneiro, que vai falar também um pouquinho sobre a história do programa. Olá minha gente, é um prazer estar aqui na Rádio Eixo, é um prazer estar aqui ao lado do meu amigo Tiago Santos.
A gente iniciou esse projeto, um projeto todo idealizado pelo Tiago, mas também influenciado por um curso, um curso que eu fiz, que eu ministro na Secretaria de Educação do Distrito Federal, na EAP, que é a Escola de Professores da Secretaria de Educação do DF, e que se chamava até originalmente O Tempo e o Som, no Brasil do século XX. A ideia é a gente conseguir retratar até certo ponto toda a história, o transcurso da história do Brasil durante o século XX, através de análises musicais, através de pensamentos musicais, dando exemplos musicais, então tentando até certo ponto entender um pouco a nossa sociedade através da música, fazendo sempre diálogos, trazendo músicas para vocês e permitindo essa interação e esse conhecimento com aquilo que há de mais genuíno na cultura brasileira. Bacana, esse foi o Gabriel.
A gente resolveu iniciar essa narrativa sobre a história do Brasil e sobre a história da música brasileira com os gêneros modinha e lundu, que são considerados os primeiros gêneros populares de música e dança do Brasil. Eles surgiram mais ou menos ali em meados dos 1700s. Antes disso, entre 1500, quando o Brasil foi descoberto, e mais ou menos 1700, existia música, sim, feita aqui na colônia.
O Brasil não era um país independente, ele era colônia de Portugal ainda, só que não era música de caráter popular. A gente tinha música indígena coexistindo com música negra, coexistindo com música portuguesa. A música portuguesa era mais a música erudita, a música sacra, principalmente feita para evangelizar os índios.
A música indígena era mais uma música ritual, de cantos e danças, utilizando muito chocalhos, apitos. E a música negra era conhecida principalmente como batuque e era caracterizada também pela percussão, que era bastante enfatizada, pelas palmas e pelo ritmo sincopado também. Gabriel, você podia falar um pouco sobre música popular?
É uma música composta por autores conhecidos, associada à dança, ao lazer? Também era uma música registrada em partituras, fonogramas? O conceito de música popular é sempre contraposto ao conceito de música erudita.
É sempre muito difícil fazer essa fronteira entre um gênero e outro. Mas na verdade, até é um negócio que a gente estava conversando em outro momento, a gente o tempo inteiro transforma essas fronteiras e transforma esses lugares da música. Uma música que hoje é popular, ela no futuro pode se tornar um pouco mais erudita, uma música mais erudita, de repente ela vai ser popularizada.
Tudo vai se transformando conforme a prática das pessoas. Mas em geral, o que se diz bastante, um dos conceitos que eu mais gosto de música popular, é esse que gira em torno da ideia de que a música popular é aquela que é feita, ela é elaborada para o desfrute das massas, para a contemplação das massas. E essa contemplação está sempre um pouco vinculada à dança.
É o fato de você se encontrar com outras pessoas, de você poder realizar até rituais de interação ao redor da música. E isso faz parte da própria caracterização do gênero musical. A gente não consegue entender, por exemplo, um maracatu andando na ladeira, se a gente não estiver seguindo esse maracatu numa sala isolada, fora daquele contexto social, ele não faz tanto sentido.
Então a gente tem essa ideia um pouco colocada na nossa cabeça de que a música é um negócio apenas auditivo. Porém, a gente tem que pensar que as gravações, por exemplo, elas remetem de um século atrás, um pouquinho mais, até os dias atuais. O contexto de contemplação, o contexto de vivência, o contexto até de vestimenta que gira ao redor de uma música, muitas vezes ele vai ser definidor da identidade daquele gênero.
Então, no popular, o que a gente tem muito é isso. As pessoas assistindo, as pessoas desfrutando daquilo, e não apenas assistindo, não apenas contemplando. As pessoas interagindo com aquela música, e a dança talvez seja a principal dessas bases da contemplação por parte da população brasileira.
E é dentro desse contexto de música popular que a gente vai abordar tanto a modinha quanto ao lundu. Inicialmente, a gente vai tratar sobre a modinha, a gente já começou a falar um pouquinho sobre a modinha. Ela aparece em Portugal, que era a metrópole do Brasil, e depois no Brasil.
Quando eu falo que ela aparece, justamente aparece nas fontes escritas, o que talvez inclusive fosse mais fácil de ser veiculado na metrópole do que aqui na colônia. Então, por volta de 1775, o mulato carioca Domingos Caldas Barbosa aparece nos registros cantando acompanhado de sua viola de arame em saraus, na cidade de Lisboa. Então, embora a modinha tenha surgido em Portugal, a criação dela teve com certeza uma colaboração brasileira.
A modinha é surgida da moda portuguesa no aspecto melódico. A modinha é idêntica à moda, inclusive com melodias de tons tristes, sentimentais, e a modinha é como se fosse uma versão popular da moda portuguesa. O próprio nome modinha, no diminutivo, corrobora com esse tom um pouco popular do gênero.
Outra coisa que é importante destacar é que o Domingos Caldas Barbosa, quando ele aparece tocando a viola de arame lá em Lisboa, eu queria só destacar esse papel da viola de arame, né? Porque a viola de arame... A arame, na verdade, é o material que as cordas eram feito, o encordamento da viola antigamente.
A viola de arame era o precursor do violão. E o violão, que o próprio nome já fala, é uma viola grande, com mais cordas, é um instrumento que se identifica muito com a música popular brasileira. Ele está presente em diversos arranjos de boa parte dos gêneros populares feitos aqui no Brasil.
Inclusive, no primeiro gênero popular, que era a modinha, já está aparecendo aí a viola de arame, que era justamente o instrumento que antecedeu a chegada do violão aqui no país. O violão acaba sendo a base, talvez, da música brasileira que a gente tem nos dias atuais. É difícil a gente pensar numa música brasileira sem que ela tenha um violão.
Então, quando a gente vai buscar essa gênese, e eu acho que é meio que um vício nosso, né, Tiago? Nós dois historiadores, a gente sempre tem esse mito das origens, né? A gente tenta voltar lá atrás pra poder buscar de onde iniciou essa música.
E a gente acaba sempre tentando achar esse início de tudo, né? É difícil a gente não pensar no que vem antes do violão quando a gente vai pensar no que estabeleceu na música brasileira. Então, é a mesma coisa que a gente estava falando, né?
Quando a gente fala de gênero musical e a gente pensa no contexto em que ele é tocado, a gente também tem que pensar na instrumentação que executa aquele gênero musical. A maneira como ele vai ser tocado por determinados instrumentos vai definir o gênero, né? Assim, é difícil a gente pensar, por exemplo, um heavy metal sendo tocado por um pandeiro, uma guitarra e um baixo, né?
Ao mesmo tempo que é difícil você pensar, por exemplo, uma modinha sendo tocada por um sintetizador, por exemplo. Então, muitas vezes, o contexto de produção, assim como a instrumentação, vai ser importante nisso. E no caso da modinha, o violão vai ser uma parte muito importante dessa modinha que chega aos dias atuais.
Quando a gente remete à parte anterior, aonde ela vem, a gente não pode fugir dessa viola de arame. E o Domingos Caldas Barbosa, que você muito bem colocou, como sendo o precursor disso tudo, por ter sido esse cara citado na literatura como o introdutor disso dentro de uma sociedade portuguesa. Mas até remetendo a esse binômio que a gente pegou aí, modinha e lundu, o Domingos Caldas Barbosa vai ter uma participação em ambos, né?
Ele vai ter uma participação na introdução da modinha em Portugal e na introdução do lundu. E remetendo também a essa ideia dos mitos das origens, essa ideia de voltar sempre para o início, eu não consigo deixar de pensar no Manuel de Araújo Porto Alegre, né? Que era esse indivíduo, esse pesquisador, que escreveu no livro do Debré, né?
O Debré era um pintor francês que fez uma viagem importante pelo Brasil, uma viagem pitoresca ao Brasil, né? Escreveu um livro em meados do século XIX e nesse livro ele faz meio que um grande resumo da fauna brasileira, das populações indígenas e tudo mais. E no meio disso tudo o Manuel De Araújo Porto Alegre insere essa pílula do que seria a gênese da música brasileira.
Ele escreve lá que a música brasileira estaria resumida a dois grandes movimentos. O lundu,, que seria esse ritmo mais suingado, mais provocante, talvez mais envolvente, mas até mais pervertido, talvez, que viria da Bahia. Enquanto a modinha, um gênero mais idílico, contemplativo, esse gênero um pouco mais lúdico, né?
Que viria de Minas Gerais. Então essa ideia de uma contemplação sentimental e tudo mais. Então quando a gente ouve a modinha, é isso que a gente percebe, né?
Um gênero bem contemplativo, de notas longas, mais pausado e que diz bastante sobre a percepção do ambiente de uma maneira lúgubre, né? Que a gente poderia dizer, Tiago. Só retomando aqui o pensamento de que a modinha tem origem na moda portuguesa, inclusive melodicamente, musicalmente elas são bastante parecidas, porém a grande diferença entre a moda portuguesa e a modinha brasileira seria justamente no teor das letras.
As modinhas do Domingos Caldas Barbosa, geralmente elas tinham versos curtos e letras ousadas e diretas sobre amor e relacionamento. Basicamente o Domingos Caldas Barbosa chegou para dar uma bagunçada lá como todo bom brasileiro, né? E já soltando versos de duplo sentido e também de paqueras, as damas da sociedade portuguesa, né?
Isso levou inclusive parte da sociedade a considerar as letras bastante vulgares e criticar a modinha por conta desse teor das letras, né? Porém, é importante ressaltar que as modinhas tiveram uma boa repercussão na cidade de Lisboa, o que levou inclusive a compositores portugueses irem elaborando uma versão mais erudita do gênero da modinha. Além disso, o próprio Domingos Caldas Barbosa conseguiu publicar dois livros em Portugal com as letras de suas modinhas.
Publicar livro no século XVIII não era uma coisa tão fácil, né pessoal? E uma outra coisa também, nesses livros tinham as letras das modinhas, porém perdeu-se as melodias, as partituras não foram transcritas, né? E além disso tudo, mais ou menos ele por 4 ou 5 anos foi produzido em Portugal o Jornal das Modinhas, né?
Esse sim, trazendo modinhas impressas destinadas à execução de cantores e acompanhamento instrumental com partituras e letras. Agora, para ilustrar um pouco as modinhas, vamos ouvir umas músicas para ilustrar o gênero, né? Vamos começar aí com a música Quem Ama Para Agravar, letra de 1790, do Domingos Caldas Barbosa, interpretada pelo grupo Anticália.
Também do grupo Anticália, a gente vai ouvir a segunda música, Austuciosos, Os Homens. A terceira canção é de Domingos Barbosa de Araújo, chamada Tristes Saudades. E por fim, Manuel Joaquim da Câmara, com Foi-se o Jozino e Deixou-me Ir.
[Palestrante 1]
Você está ouvindo o tempo e o som na sua rádio-eixo
Você está ouvindo o tempo e o som na sua Rádio Eixo
Então, vimos aqui, acabamos de ouvir Quem ama para gravar música de Domingos Caldas Barbosa Na verdade, letra de Domingos Causas Barbosa A interpretação foi do grupo Anticália Na segunda canção que a gente ouviu foi Austuciosos os Homens É uma música que tem autoriza conhecida Mas é interpretada também pelo grupo Anticália E ouvimos Tristes Saudades também De Damião Barbosa de Araújo E Foi-se o Josino e Deixou-me De Manuel Joaquim de Da Câmara Seguindo a nossa grande conversa aqui Sobre a modinha A gente vinha falando aqui Um pouco da modinha erudita Que foi essa maneira como Essa moda portuguesa Transformada aqui no Brasil também Pelo Domingos Caldas Barbosa Acabou sendo novamente transformada Lá em Portugal Incorporando até uma sociedade mais letrada Uma sociedade de corte e tudo mais Então, de repente a gente vê Essa modinha começando a aparecer Dentro dos salões de alta sociedade Sendo cantada como se fosse uma águia Uma cantora cantando Às vezes acompanhada por quarteiros de godas Ou por quintetos de sopros Às vezes acompanhada apenas por voz e piano E acaba ela retornando ao Brasil A gente vai vendo isso Muito vinculada a essa transferência Da corte portuguesa A partir do ano de 1808 E é algo que às vezes fica um pouco perdido Eu acho As pessoas só falam Qual a vinda da família real De repente começou a mudar tudo E a gente não tem a dimensão Um pouco dessa vinda da família real Do que ela representou E de fato com a vinda da família real A gente começa a ter um aparato cultural Muito forte Que vai ser desenvolvido Ao redor dessa corte Não veio só a família real Veio toda uma corte portuguesa Todos os asseclas Que chegaram à cidade do Rio de Janeiro Expropriaram habitações Tiraram pessoas de suas casas E acabaram fazendo dali a sua residência Então ao redor dessa sociedade de corte O que começa a acontecer É que se estabelecem Aparatos culturais importantes Que vão ser ou fundados Pela própria família real portuguesa Pelo rei Dom João VI Ou fundados para atender Essa família real portuguesa Então a gente tem uma série De instituições lá no Rio de Janeiro Que foram criadas nesse momento E mais do que isso O Brasil começa a se tornar a rota Para caravanas de operetas europeias Que vão passar pelo país Trazendo manifestações culturais Próprias da sociedade de corte Da sociedade europeia Uma outra transformação Que ainda vem nessa época É que com essa transformação social Com essas mudanças sociais Começam a vir diversos pianos para o Brasil Então a gente começa a ter do Rio de Janeiro Uma cidade com diversos Instrumentos de pianos Era inclusive um instrumento que Designava o estado social A pessoa que tinha mais posses O marido trabalhava A esposa Tocava o seu piano em casa E geralmente Os filhos cuidados Por uma escrava Por uma escravizada e tudo mais E à noite aquela pessoa Aquela esposa ia tocar o piano Para o seu marido, para o seu marido desfrutar Da música, a gente não tinha televisão Na época, a gente não tinha rádio Na época, a gente tem que lembrar dessas coisas Então o piano se torna um símbolo de status Aquela pessoa que tem um piano em casa É aquela que é capaz de contemplar a música E que é capaz de desfrutar a música E o piano se torna em um determinado momento Um instrumento muito simbólico Da parte Do extrato social Que o indivíduo ocupa durante essa época Então por conta disso A gente vê uma transformação cultural muito forte Que vai acabar repercutindo nos anos posteriores E dando repercussão A toda a música e a cultura Que vinha posteriormente na cidade do Rio de Janeiro E no Brasil, né Tiago?
É isso aí, o Gabriel lembrou bem No início da fala dele Esse caráter erudito da modinha Enfatizando então Que na Europa A música popular europeia Ela tem grande influência Da música clássica Das óperas Da música erudita Nos diversos gêneros Os gêneros populares europeus Eles têm elementos da música clássica E é claro que os portugueses Fizeram isso com a modinha também Que foi a modinha de salão Que o Gabriel comentou E com a vida da família real Que trouxe não só os pianos Como trouxe também Músicos europeus Que tinha muita música clássica germânica Ópera napolitana Ópera italiana, no caso É A corte também trouxe A corte do Dom João VI Trouxe também a modinha de salão Que aqui no Brasil conseguiu Se estabelecer Principalmente por conta dos pianos E também por conta da Difusão Das casas de edição musical Que eram casas que elas Publicavam partituras e vendiam Então como as partituras Começaram a ser compartilhadas As músicas começaram a ser registradas Não tinham discos na época Não tinham cilindros Era assim que a música era compartilhada Claro que existia também A modalidade oral Mas eu estou falando da música clássica Popular, comercial Na verdade Então todos esses aspectos aí ajudaram Ao estabelecimento da modinha de salão Da modinha erudita aqui no Brasil Agora assim como Rock, como samba São gêneros musicais que se expandiram Se transformaram A modinha também conheceu esse movimento Né Gabriel? Ela apareceu com Domingos Caldas Barbosa lá em Portugal Ganhou tons Eruditos E aqui no final do século XIX No Brasil Ela vai se repopularizar ganhando os tons Mais populares com as serestas Perfeitamente E a gente vai ver repercussões disso Na música popular brasileira Nos anos posteriores Com muita força As primeiras gravações que a gente tem No Brasil, você que entende até mais disso do que eu São as gravações do Xisto Bahia Cantando as vezes Lumpur Mas também com as modinhas ali Muito presentes Lumpur que é o nosso próximo tema A primeira transmissão da Rádio Nacional No ano de 1986 É a música do Catulo da Paixão Cearense Lua do Sertão Que é também uma modinha Uma modinha bem contemplativa Naquele espírito bem presente lá no Manuel do Araújo de Porto Alegre O livro do Debret E quando a gente chega nas gravações atuais A gente tem diversos exemplos A gente ouviu essas gravações que talvez As pessoas que estejam nos escutando Sejam gravações um pouco mais estranhas Um pouco mais Antigas, que sonhem com mais antigas Mas a gente tem vários exemplos de modinhas Que vão ser gravadas por Vicente Celestino, Orlando Silva Silvio Caldas E nos anos posteriores Pão Jobim, Gal Costa, Rita Lee O Juca Chaves vai ser um cantor que vai se Estabelecer muito em torno das modinhas que vão cantar Então Nessa ideia de fazer essa interface Entre a modinha mais antiga E a modinha que a gente pode dizer um pouquinho mais contemporânea A gente selecionou para esse segundo bloco Algumas músicas Que tem esse caráter um pouco mais atual Que para as pessoas vão soar um pouquinho mais atual Apesar de que Os dias atuais tudo é antigo já Mas vamos ouvir primeiro Aqui Por Quem Sonha em Ana Maria Interpretada por Juca Chaves Depois vamos ouvir Andréa Daltro Cantando a versão da modinha Se Essa Rua Fosse Minha, que é uma cantiga popular Que todo mundo conhece, já do século XIX E vamos ouvir também O grande violonista, compositor Toquinho, na modinha número 1 A vida da poesia Chora rimas O luar Madrugada em Ana Maria Sonha sonhos Cor do mar Por quem sonha Em Ana Maria Nesta noite
Você está ouvindo O Tempo e o Som . Voltando aqui com o programa Você acabou de ouvir Toquinho com Modinha 1 Andréa Daltro com Se Essa Rua Fosse Minha e Juca Chaves com a música Por Quem Sonha Ana Maria Pessoal, a gente está falando de Modinha e de Lundu aqui É importante falar também que a gente está falando sobre esses gêneros, porque esses gêneros eles não foram extintos as reminiscências deles ainda perduraram durante o século XX Gabriel citou vários cantores de Modinha a gente ouviu algumas Modinhas mais contemporâneas, ou seja esses gêneros, eles ainda fazem algum sentido pra gente, é por isso que a gente está indo, entre aspas resgatar eles aí no passado e o Lundu vai ser muito importante também pra música brasileira se a gente for fazer uma representação aí, uma linha do tempo da música brasileira a gente poderia falar que o Lundu, ele está na mesma linha, que começa com o Batuque, passa para o Lundu, depois segue pro Maxixe, o Choro e o Samba, é claro que as coisas não foram tão compartimentadas assim muitos desses gêneros coexistiram e se influenciaram mas sim, dá pra gente tentar traçar aí um pouquinho dessa linha que resgata alguns elementos em comum desses gêneros o próprio Lundu então ele nasceu como uma dança que conjugava elementos de origem africana com elementos europeus uma das importâncias do Lundu foi que ele foi o primeiro gênero popular da colônia que valorizou e colocou em destaque a musicalidade e temas africanos ou afro-brasileiros o Lundu, eu estava falando pra vocês, que ele nasceu com elementos de dança negros, justamente eram elementos que vieram dos Batuques afro-brasileiros com gestos que vinham do Fandango Ibérico o Fandango dançando em Portugal, o Fandango dançado na Espanha, que elementos eram esses que viam do Fandango? principalmente os braços erguidos da dança e o estalar dos dedos a gente aqui no Brasil está mais familiarizado com esse movimento do flamenco que eles utilizam inclusive as castanholas porém aqui a gente está falando de gestos um pouco anteriores, que são relacionados ao Fandango e que tem na verdade no estalar dos dedos ao invés das castanholas esse movimento pra marcar o ritmo também e que faz parte tanto da música quanto da dança Gabriel, você quer comentar um pouco sobre os Batuques aqui no Brasil os Batuques e as umbigadas que influenciaram tanto os Lundus? Com todo prazer pra mim o Lundu é um tema muito interessante você falou anteriormente até sobre temática de letra e tudo mais sobre essa exposição até um pouco subversiva do Lundu, a gente pode dizer a gente encontra isso inclusive dentro do teor das letras a gente vai ver isso, por exemplo, na forma como o Domingos Caldas Barbosa vai introduzir às vezes algumas letras em Portugal, que vão ser letras que vão fazer referências a relações sexuais entre a senhora e o cativo, e o escravizado então coisas que pra aquela sociedade da época eram totalmente subversivas e sobre a sua pergunta inclusive, sobre esse Batuque sobre a umbigadas, a gente tem dentro deles uma célula rítmica, que é o que a gente chama de síncope em geral, a nossa célula rítmica mais natural, aquela que talvez seja mais, digamos, previsível no natural, seja aquela célula rítmica que sempre vai marcando o tempo um ou o tempo dois ou o tempo um e meio assim, tira ele, um e um, é a expectativa, é o chão porém quando a gente chega nesses ritmos esses Batuques Brasileiros que vão chegar no Lundu, que vão levar no Maxixe que vão levar no Samba, a gente tem aquilo que o grande Mário de Andrade vai chamar de sincopar e que a gente vai chamar popularmente de síncope, o ritmo sincopado ele é esse ritmo que ao invés de fazer um, um e um ele faz um e e um, que é essa divisão rítmica que ela subverte a expectativa, ela vai mais pra frente do tempo, ela vai um pouco pra trás do tempo, ela vem logo depois do tempo forte, ou ela vem logo antes do tempo forte, é esse deslocamento da acentuação que dá o swing e que faz justamente as pessoas dançarem de maneira mais provocadora, então esse tipo de célula rítmica a gente não pode deixar de remeter a uma herança africana, né é algo, o Lundu é um ritmo brasileiro, porém ele é um ritmo com muita presença afro-brasileira, a gente pode dizer quase que essencialmente afro-brasileira então se na dança ele incorpora em alguns momentos coisas do Fandango e tudo mais se dentro da sua estruturação às vezes melódica, ele incorpora algumas coisas europeias, em termos rítmicos o africano tá muito presente e o Batuque vai fazer com que essa célula rítmica deslocada leve a uma dança diferente, que vai ser justamente essa umbigada, essa batida de umbigo entre diferentes pessoas, que é justamente aquilo que você questionou aí você mencionou é importante lembrar também, pessoal, que o Batuque na verdade era como os portugueses chamavam qualquer música e dança percussiva e cantada e dançada dos negros na colônia, inclusive era até um termo que tem até um viés crítico hoje em dia, porque fala-se que ele homogeneizava diversas manifestações culturais diferentes, né então os negros, eles chamam o Batuque para o momento do lazer, que era diferente do Batuque utilizado para ritos sociais, como aniversários, casamentos formaturas, que também era diferente do Batuque utilizado em momentos religiosos, por exemplo então qualquer música percussiva negra era conhecida como Batuque no Batuque, enquanto o cantor entoava alguns versos os outros participantes marcavam ritmos com palmas e com os instrumentos percussivos como os tambores e chocalhos e enquanto a música percussiva era tocada, os outros participantes ficavam ali no formato de roda também, né e aí cabe destacar também como a roda ela é importante nessa tradição da música negra brasileira se a gente for pensar tem a roda de samba tem a roda de coco tem a roda de capoeira que ali tem muito do Batuque também que é basicamente só a percussão os cantos e os participantes da roda batendo palma e cantando também os refrões juntos, né e claro, acompanhando toda essa dança do Batuque, toda essa música do Batuque, existia a dança a coreografia da umbigada que enfatizava justamente os movimentos das cinturas e dos quadris que o Gabriel comentou aí que eram movimentos sensuais, né esse requebrado que ele era temperado pela síncope e por que o número umbigada?
Geralmente o participante que estava dançando no centro da roda ele escolhia outro participante que estava compondo o círculo da roda pra ir para o centro e essa troca entre o dançarino do centro com o participante que estava batendo palmas na roda ela era representada pelo toque de umbigos então o cara que estava no centro ia dançando até a pessoa que estava na roda tocava o seu umbigo no umbigo dela e existia essa troca com outro participante se encaminhando para o centro da roda Agora, para a gente ir se familiarizando com o Lundu vamos ouvir um pouco do gênero na sua forma de Lundu canção ouviremos Lundus antigos executados por intérpretes atuais o grupo Anticalia toca Yayazinha, Você Mesma depois Ricardo Canji interpreta a música intitulada de Lundu que foi o primeiro Lundu do país a ser transcrito para a partitura pelo viajante austríaco Von Martius no século XIX e finalizando o bloco mais uma vez o grupo Anticalia e sua versão para Landun que é uma outra maneira de se referir ao gênero Lundu eu pensei que você me fizesse tanto mal sempre moça é negro dela quantas sujeitas muita cautela sempre moça é negro dela quantas sujeitas muita cautela outro tempo me enganou fez de mim seu bobozinho quando me via chorar me dizia coitadinho sempre moça é negro dela quantas sujeitas muita cautela sempre moça é negro dela quantas sujeitas muita cautela que me amava com ternura trinta vezes me jurou quando me quis ser ingrata de um assalto do negro sempre moça é negro dela quantas sujeitas
[Palestrante 1]
você está ouvindo o tempo e o som na sua radio o tempo e o som
Seguimos nossa jornada então aqui na Rádio Eixo, com o programa o Tempo & o Som. Ouvimos agora a Grupo Anticália, com Iá Iazinha Você Mesma, Ricardo Canji, com Lundu, que foi inclusive uma música pesquisada por Friedrich von Marx, viajante austríaco, e ouvimos também o grupo anticalia cantando Landun, que é uma outra forma de você se referir ao Lundu. Seguindo nossa jornada pelo Lundu, vamos tratar um pouco da maneira como esse Lundu, de uma prática cultural espontânea, vai ser filtrado e depurado até chegar ao ouvido das pessoas. O Lundu, que era muito espontâneo, feito de maneira para a fruição das pessoas que estavam ali dançando, cantando e tocando, ele vai, de repente, se transformar e ganhar letras, ganhar canções, ganhar versos que vão remeter a questões que vão ser interessantes para aquelas pessoas que consomem.
De fato, esse processo é um processo que vai atingir todos os ritmos que vão chegar ao nosso ouvido. É como se, aos poucos, o ritmo fosse se desfolclorizando, perdendo uma característica mais natural de folclore, que às vezes até é um termo usado de maneira pejorativa, e vai ganhando uma característica mercantil, uma característica de vendagem, para que as pessoas possam comprar e possam consumir ele. Os primeiros registros que a gente tem de Lundu vendido, ouvido e consumido em sociedade, remetem sempre a esse sujeito que a gente mencionou anteriormente, da modinha, chamado Domingos Caldas Barbosa.
Domingos Caldas Barbosa era um indivíduo que migrou para Portugal, nascido no Rio de Janeiro, migrou para Portugal, era de pai português, mas que lá cantava modinhas e também Lundus. E nos Lundus dele, sempre havia uma temática, até certo ponto, disruptiva, a gente pode dizer. Se a dança era algo que chocava as pessoas, pela obrigada, pelo contato corpo a corpo, a letra também trouxe essa característica.
Então, nela sempre apareciam inferências a relações sexuais entre a sinhá e o cativo. Note aí o impacto social que tem você falar de uma relação entre um escravizado e uma senhora. Seria muito mais natural, claro, e é muito mais espontâneo numa sociedade machista, se falar de uma relação sexual entre um senhor e uma cativa.
Um homem usando da sua escravizada para poder ter prazer. Mas de fato, você ter essa relação em que o escravo faz relações sexuais com a senhora é algo que realmente salta os ouvidos, principalmente quando a gente está falando de coisas que vem no início do século XIX, a gente está falando de 1820 mais ou menos. Então além dos registros que a gente tem desse Lundu, que vai ser compartilhado lá em Portugal e que vai acabar chegando no Brasil, a gente vai ter diversos registros também dele em práticas culturais que envolvem mais a performance.
Então algumas delas são os teatros e os circos. Ainda no início do século XX, já existem registros, tanto em Pernambuco quanto no Rio de Janeiro, do Lundu aparecendo dentro de apresentações circenses ou dentro de apresentações teatrais. Inclusive mantendo essa característica jocosa, essas brincadeiras que existem.
Uma delas que talvez o público que está ouvindo esteja familiarizado, é o poema As Rosas do Cume, do João da Cunha, que ficou popularizado pelo grande cantor contemporâneo do Falcão, cantor e humorista contemporâneo, que caso o pessoal não lembre, no cume daquela serra eu plantei uma roseira. Quanto mais as rosas brotam, tanto mais o cume cheira. Então essa brincadeira, esse trocadilho, esse jogo de palavras também está presente no Lundu e traz também esse caráter jocoso dele, que acaba sendo representado na maneira como o Lundu está colocado na música nacional.
De fato o que a gente vai ver, então, é ele transitando com algum sucesso pelo século XIX em representações populares, em representações teatrais circenses e também já no início do século XIX nas gravações, como a gente falou, do Domingos Carlos Barbosa. Porém, quando chegar ao início do século XX, a gente também vai ver ele aparecendo dentro das gravações. Inclusive vale lembrar que a primeira gravação que a gente tem registro de gravação comercial no Brasil é a gravação do Isso É Bom, que é uma música, um Lundu, composto pelo Xisto Bahia.
Thiago, você que entende um pouco mais essa questão de fonograma, gravação, quer falar um pouco sobre isso, pessoal? Boa lembrança, Gabriel. Essa música foi gravada em 1902 pelo Baiano.
Como você falou, ela foi composta pelo Xisto Bahia e foi gravada pelo cantor baiano para casa Edson, que era uma loja que vendia discos e cilindros e foi a primeira gravadora nacional. O Edson, no nome do estabelecimento, é uma referência ao norte-americano Thomas Edison, que além da lâmpada elétrica, inventou o fonógrafo. O fonógrafo permitiu o registro de expressões musicais brasileiras que viam lá do século XVIII, como o Lundu e a Modinha, que tiveram o repertório preservado justamente pelo desenvolvimento dessas tecnologias de captação e gravação do som.
Isso é Bom, que foi o primeiro Lundu e a primeira música gravada no Brasil, foi registrada em um cilindro, que foi a primeira mídia a armazenar sons e era utilizado no fonógrafo, que foi o primeiro aparelho de gravação e reprodução de sons inventado em 1977. Para ouvir a música no fonógrafo era necessário utilizar fones de ouvido, então ouvir a música em um fonógrafo era uma experiência individual. A gente comentou aqui que o Isso É Bom foi a primeira gravação comercial do Brasil de uma música, porém, no fim do Império, a família real brasileira, Dom Pedro II, Princesa Isabel, chegaram a registrar as vozes em um fonógrafo também, em um cilindro.
Inclusive, um membro, acho que foi o sobrinho do Dom Pedro II, chegou a solfejar nessa ocasião, sendo considerada a primeira musica também gravada. É interessante falar que esse cilindro com a voz do Dom Pedro II nunca foi encontrado até agora. Mais um pouquinho pra frente, em 1888, o alemão radicado nos Estados Unidos, o Berliner, desenvolveu o gramofone, que ao invés de cilindros utilizava como mídia o disco, o formato geométrico do disco.
Antes era um cilindro, agora era um disco. E a reprodução do som acontecia por um cone, permitindo assim uma audição coletiva das músicas. É sempre bom lembrar também que antes de cilindros e discos, as músicas eram registradas em partituras.
Inclusive, falando sobre escrita, Tiagueira, tem muita gente que faz uma observação muito pertinente sobre o Lundu e a maneira como ele chegou nos dias atuais. De fato, o que acontece? Por ser um ritmo de matriz africana, e na música centro-africana, a gente tem uma divisão rítmica, que muitas vezes não é uma divisão rítmica regular.
Enquanto na música europeia, a gente tem uma divisão rítmica que é bem irregular. É sempre um tempo dividido em dois, ou dividido em quatro. Sempre uma divisão de um tempo padrão.
Já na música centro-africana, muitas vezes a música é irregular. Você tem um tempo de sete toques, outro de cinco, outro de quatro, e por aí vai. Essa irregularidade, tem muita gente que descreve ela como uma das dificuldades em se traduzir o Lundu para uma partitura escrita.
Porque, de fato, é como se você estivesse fazendo uma tradução de outra língua. Uma música que é pensada com uma lógica, vai ser traduzida para outra lógica escrita, o que dificulta também a maneira como a gente vai ter uma percepção de como era esse Lundu a princípio. Por isso, é muito difícil a gente saber como era o Lundu lá do século XVII.
Ou lá do século XVIII, no caso, que a gente tem mais registro. A gente tem, com mais clareza, os Lundus que foram gravados posteriormente. Tipo esse do Xisto Bahia, as gravações do Baiano e tudo mais.
Enfim, terminando aqui o programa de hoje, é bom lembrar sempre que o Lundu foi uma das primeiras manifestações negras a ser aceita pela sociedade colonial branca. E além disso, o Lundu pode ser considerado uma das matrizes, uma das referências para gêneros posteriores. Como o Maxixe, o Samba.
Para concluir nossa conversa sobre o Lundu, a gente vai ouvir a primeira música gravada no Brasil, um Lundu em Isso é bom, cantado e registrado pelo Baiano em 1902. E depois, a canção Lundu da Rapariga, de Alcione, que ilustra um pouco essa genealogia que vai do Samba e retrocede ao Lundu e ao Batuque. Ou seja, faz essa ponte entre o passado e o presente.
É isso aí, eu sou o Thiago Santos, estou aqui com o Gabriel Carneiro, esse é o programa Tempo e Um Som, na sua Rádio Ancho. E só para ilustrar também uma questão que é importante, Thiago, essa gravação do Baiano é uma gravação de 1902, então a gente vai ter uma sonoridade que é uma sonoridade bem antiga, ainda aquela sonoridade dos cilindros de cedo. Já a canção da Alcione, o Lundu da Rapariga, é uma canção de 1978, era aquele disco Alerta Geral da Alcione, daquela leva de primeiros discos da Alcione, quando ela era uma cantora um pouco menos romântica, um pouco menos de sofrimento, e falava bastante de festa e tudo mais, ela era uma cantora que projetava mais a voz, tocava muitas vezes com orquestra, tocava bastante com saxofone e tudo mais.
Então esse disco Alerta Geral, ele traz uma Alcione que ainda é pré aquela Alcione que a gente vai ver posteriormente, e o Lundu da Rapariga é uma música muito interessante, porque ela soa Lundu, mas ela também já soa um pouco de maxixe, que é um dos gêneros que vai sofrer a influência do Lundu na posterioridade, assim como o samba vai sofrer, assim como outros ritmos nacionais vão acabar sendo transformados pelo Lundu.
Deixo um abraço aí para o pessoal, foi um prazer falar com vocês, a gente se vê na próxima, eu sou Gabriel Carneiro, também aqui no Tempo e no Som. Este bom, cantou cantado pelo Baiano para a Casa Edson,
Esse foi o Tempo e o Som Com Tiago Santos e Gabriel Carneiro
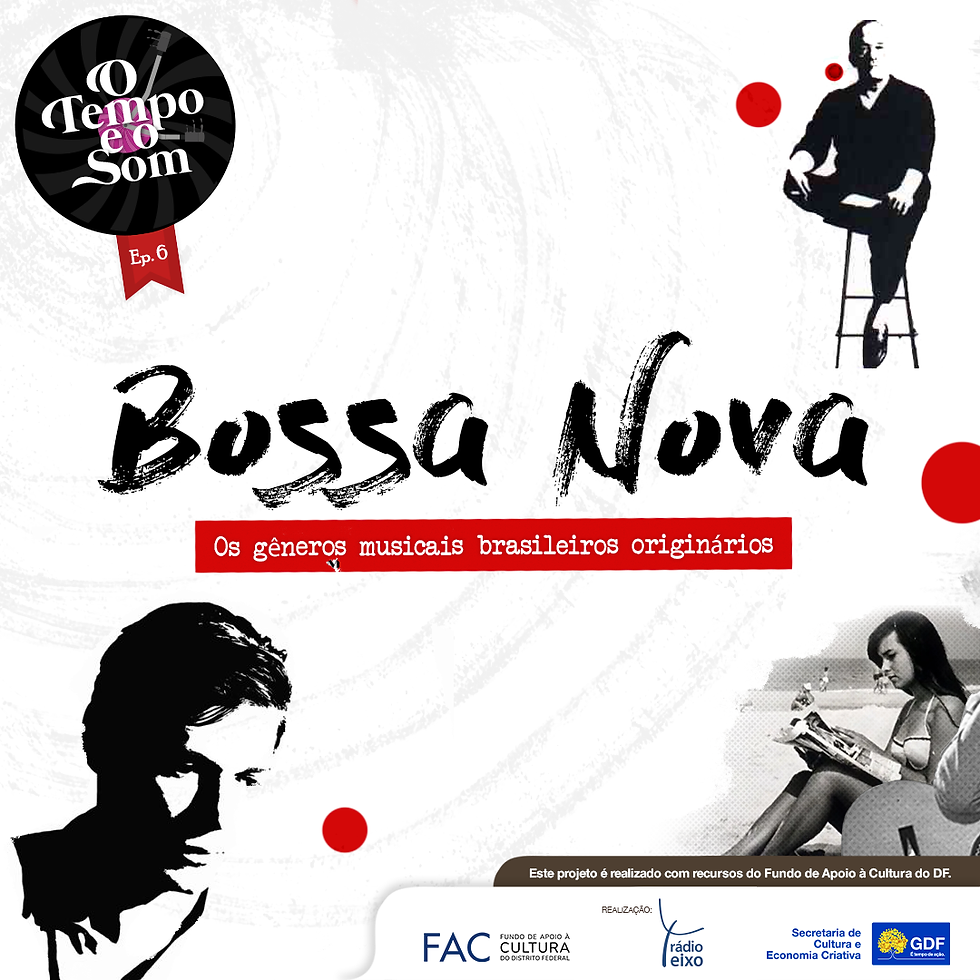


Comentários